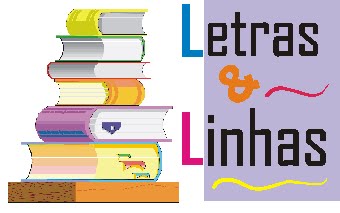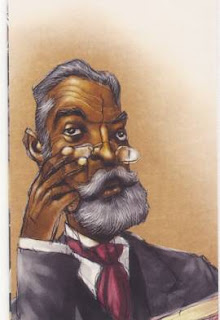quinta-feira, 30 de dezembro de 2010
Letras & Linhas: Carlos Drummond de Andrade
Letras & Linhas: Carlos Drummond de Andrade: "'Poemas de Dezembro' Procuro uma alegriauma mala vaziado final de anoe eis que tenho na mão- flor do cotidiano -é vôo de um pássaroé ..."
Carlos Drummond de Andrade
"Poemas de Dezembro"
Procuro uma alegria
uma mala vazia
do final de ano
e eis que tenho na mão
- flor do cotidiano -
é vôo de um pássaro
é uma canção.
(Dezembro de 1968)
Uma vez mais se constrói
a aérea casa da esperança
nela reluzem alfaias
de sonho e de amor: aliança.
(Dezembro de 1973)
Fazer da areia, terra e água uma canção
Depois, moldar de vento a flauta
que há de espalhar esta canção
Por fim tecer de amor lábios e dedos
que a flauta animarão
E a flauta, sem nada mais que puro som
envolverá o sonho da canção
por todo o sempre, neste mundo
(Dezembro de 1981)
Quem me acode à cabeça e ao coração
neste fim de ano, entre alegria e dor?
Que sonho, que mistério, que oração?
Amor.
(Dezembro de 1985)
Receita de Ano Novo
Para você ganhar belíssimo Ano Novo
cor de arco-íris, ou da cor da sua paz,
Ano Novo sem comparação como todo o tempo já vivido
(mal vivido ou talvez sem sentido)
para você ganhar um ano
não apenas pintado de novo, remendado às carreiras,
mas novo nas sementinhas do vir-a-ser,
novo
até no coração das coisas menos percebidas
(a começar pelo seu interior)
novo espontâneo, que de tão perfeito nem se nota,
mas com ele se come, se passeia,
se ama, se compreende, se trabalha,
você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita,
não precisa expedir nem receber mensagens
(planta recebe mensagens?
passa telegramas?).
Não precisa fazer lista de boas intenções
para arquivá-las na gaveta.
Não precisa chorar de arrependido
pelas besteiras consumadas
nem parvamente acreditar
que por decreto da esperança
a partir de janeiro as coisas mudem
e seja tudo claridade, recompensa,
justiça entre os homens e as nações,
liberdade com cheiro e gosto de pão matinal,
direitos respeitados, começando
pelo direito augusto de viver.
Para ganhar um ano-novo
que mereça este nome,
você, meu caro, tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo de novo, eu sei que não é fácil,
mas tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre.
terça-feira, 28 de dezembro de 2010
Letras & Linhas: Machado de Assis
Letras & Linhas: Machado de Assis: "A CHINELA TURCA Vede o bacharel Duarte. Acaba de compor o mais teso e correto laço de gravata que apareceu naquele ano de 1850, e anuncia..."
Machado de Assis
A CHINELA TURCA
Vede o bacharel Duarte. Acaba de compor o mais teso e correto laço de gravata que apareceu naquele ano de 1850, e anunciam-lhe a visita do major Lopo Alves. Notai que é de noite, e passa de nove horas. Duarte estremeceu, e tinha duas razões para isso. A primeira era ser o major, em qualquer ocasião, um dos mais enfadonhos sujeitos do tempo. A segunda é que ele preparava-se justamente para ir ver, em um baile, os mais finos cabelos loiros e os mais pensativos olhos azuis que este nosso clima, tão avaro deles, produzira. Datava de uma semana aquele namoro. Seu coração deixando-se prender entre duas valsas, confiou aos olhos, que eram castanhos, uma declaração em regra, que eles pontualmente transmitiram à moça, dez minutos antes da ceia, recebendo favorável resposta logo depois do chocolate. Três dias depois, estava a caminho a primeira carta, e pelo jeito que levavam as coisas não era de admirar que, antes do fim do ano, estivessem ambos a caminho da igreja. Nestas circunstâncias, a chegada de Lopo Alves era uma verdadeira calamidade. Velho amigo da família, companheiro de seu finado pai no exército, tinha jus o major a todos os respeitos. Impossível despedi-lo ou tratá-lo com frieza. Havia felizmente uma circunstância atenuante; o major era aparentado com Cecília, a moça dos olhos azuis; em caso de necessidade, era um voto seguro.
Duarte enfiou um chambre e dirigiu-se para a sala, onde Lopo Alves, com um rolo debaixo do braço e os olhos fitos no ar, parecia totalmente alheio à chegada do bacharel.
— Que bom vento o trouxe a Catumbi a semelhante hora? perguntou Duarte, dando à voz uma expressão de prazer, aconselhada não menos pelo interesse que pelo bom-tom.
— Não sei se o vento que me trouxe é bom ou mau, respondeu o major sorrindo por baixo do espesso bigode grisalho; sei que foi um vento rijo. Vai sair?
— Vou ao Rio Comprido.
— Já sei; vai à casa da viúva Meneses. Minha mulher e as pequenas já lá devem estar: eu irei mais tarde, se puder. Creio que é cedo, não?
Lopo Alves tirou o relógio e viu que eram nove horas e meia. Passou a mão pelo bigode, levantou-se, deu alguns passos na sala, tornou a sentar-se e disse:
— Dou-lhe uma notícia, que certamente não espera. Saiba que fiz... fiz um drama.
— Um drama! exclamou o bacharel.
— Que quer? Desde criança padeci destes achaques literários. O serviço militar não foi remédio que me curasse, foi um paliativo. A doença regressou com a força dos primeiros tempos. Já agora não há mais remédio senão deixá-la, e ir simplesmente ajudando a natureza.
Duarte recordou-se de que efetivamente o major falava noutro tempo de alguns discursos inaugurais, duas ou três nênias e boa soma de artigos que escrevera acerca das campanhas do Rio da Prata. Havia porém muitos anos que Lopo Alves deixara em paz os generais platinos e os defuntos; nada fazia supor que a moléstia volvesse, sobretudo caracterizada por um drama. Esta circunstância explicá-la-ia o bacharel, se soubesse que Lopo Alves algumas semanas antes, assistira à representação de uma peça do gênero ultra-romântico, obra que lhe agradou muito e lhe sugeriu a idéia de afrontar as luzes do tablado. Não entrou o major nestas minuciosidades necessárias, e o bacharel ficou sem conhecer o motivo da explosão dramática do militar. Nem o soube, nem curou disso. Encareceu muito as faculdades mentais do major, manifestou calorosamente a ambição que nutria de o ver sair triunfante naquela estréia, prometeu que o recomendaria a alguns amigos que tinha no Correio Mercantil, e só estacou e empalideceu quando viu o major, trêmulo de bem-aventurança, abrir o rolo que trazia consigo.
— Agradeço-lhe as suas boas intenções, disse Lopo Alves, e aceito o obséquio que me promete; antes dele, porém, desejo outro. Sei que é inteligente e lido; há de me dizer francamente o que pensa deste trabalho. Não lhe peço elogios, exijo franqueza e franqueza rude. Se achar que não é bom, diga-o sem rebuço.
Duarte procurou desviar aquele cálice de amargura; mas era difícil pedi-lo, e impossível alcançá-lo. Consultou melancolicamente o relógio, que marcava nove horas e cinqüenta e cinco minutos, enquanto o major folheava paternalmente as cento e oitenta folhas do manuscrito.
— Isto vai depressa, disse Lopo Alves; eu sei o que são rapazes e o que são bailes. Descanse que ainda hoje dançará duas ou três valsas com ela, se a tem, ou com elas. Não acha melhor irmos para o seu gabinete?
Era indiferente, para o bacharel, o lugar do suplício; acedeu ao desejo do hóspede. Este, com a liberdade que lhe davam as relações, disse ao moleque que não deixasse entrar ninguém. O algoz não queria testemunhas. A porta do gabinete fechou-se; Lopo Alves tomou lugar ao pé da mesa, tendo em frente o bacharel, que mergulhou o corpo e o desespero numa vasta poltrona de marroquim, resoluto a não dizer palavra para ir mais depressa ao termo.
O drama dividia-se em sete quadros. Esta indicação produziu um calafrio no ouvinte. Nada havia de novo naquelas cento e oitenta páginas, senão a letra do autor. O mais eram os lances, os caracteres, as ficelles, e até o estilo dos mais acabados tipos do romantismo desgrenhado. Lopo Alves cuidava pôr por obra uma invenção, quando não fazia mais do que alinhavar as suas reminiscências. Noutra ocasião, a obra seria um bom passatempo. Havia logo no primeiro quadro, espécie de prólogo, uma criança roubada à família, um envenenamento, dois embuçados, a ponta de um punhal e quantidade de adjetivos não menos afiados que o punhal. No segundo quadro dava-se conta da morte de um dos embuçados, que devia ressuscitar no terceiro, para ser preso no quinto, e matar o tirano do sétimo. Além da morte aparente do embuçado, havia no segundo quadro o rapto da menina, já então moça de dezessete anos, um monólogo que parecia durar igual prazo, e o roubo de um testamento.
Eram quase onze horas quando acabou a leitura deste segundo quadro. Duarte mal podia conter a cólera; era já impossível ir ao Rio Comprido. Não é fora de propósito conjeturar que, se o major expirasse naquele momento, Duarte agradecia a morte como um benefício da Providência. Os sentimentos do bacharel não faziam crer tamanha ferocidade; mas a leitura de um mau livro é capaz de produzir fenômenos ainda mais espantosos. Acresce que, enquanto aos olhos carnais do bacharel aparecia em toda a sua espessura a grenha de Lopo Alves, fugiam-lhe ao espírito os fios de ouro que ornavam a formosa cabeça de Cecília; via-a com os olhos azuis, a tez branca e rosada, o gesto delicado e gracioso, dominando todas as demais damas que deviam estar no salão da viúva Meneses. Via aquilo, e ouvia mentalmente a música, a palestra, o soar dos passos, e o ruge-ruge das sedas; enquanto a voz rouquenha e sensaborona de Lopo Alves ia desfiando os quadros e os diálogos, com a impassibilidade de uma grande convicção.
Voava o tempo, e o ouvinte já não sabia a conta dos quadros. Meia-noite soara desde muito; o baile estava perdido. De repente, viu Duarte que o major enrolava outra vez o manuscrito, erguia-se, empertigava-se, cravava nele uns olhos odientos e maus, e saía arrebatadamente do gabinete. Duarte quis chamá-lo, mas o pasmo tolhera-lhe a voz e os movimentos. Quando pôde dominar-se, ouviu o bater do tacão rijo e colérico do dramaturgo na pedra da calçada.
Foi à janela; nada viu nem ouviu; autor e drama tinham desaparecido.
— Por que não fêz ele isso a mais tempo? disse o rapaz suspirando.
O suspiro mal teve tempo de abrir as asas e sair pela janela fora, em demanda do Rio Comprido, quando o moleque do bacharel veio anunciar-lhe a visita de um homem baixo e gordo.
— A esta hora? exclamou Duarte.
— A esta hora, repetiu o homem baixo e gordo, entrando na sala. A esta ou a qualquer hora, pode a polícia entrar na casa do cidadão, uma vez que se trata de um delito grave.
— Um delito!
— Creio que me conhece...
— Não tenho essa honra.
— Sou empregado na polícia.
— Mas que tenho eu com o senhor? De que delito se trata?
— Pouca coisa: um furto. O senhor é acusado de ter subtraído uma chinela turca. Aparentemente não vale nada ou vale pouco a tal chinela. Mas há chinela e chinela. Tudo depende das circunstâncias.
O homem disse isto com um riso sarcástico, e cravando no bacharel uns olhos de inquisidor. Duarte não sabia sequer da existência do objeto roubado. Concluiu que havia equívoco de nome, e não se zangou com a injúria irrogada à sua pessoa, e de algum modo à sua classe, atribuindo-se-lhe a ratonice. Isto mesmo disse ao empregado da polícia, acrescentando que não era motivo, em todo caso, para incomodá-lo a semelhante hora.
— Há de perdoar-me, disse o representante da autoridade. A chinela de que se trata vale algumas dezenas de contos de réis; é ornada de finíssimos diamantes, que a tornam singularmente preciosa. Não é turca só pela forma, mas também pela origem. A dona, que é uma de nossas patrícias mais viajeiras, esteve, há cerca de três anos no Egito, onde a comprou a um judeu. A história, que este aluno de Moisés referiu acerca daquele produto da indústria muçulmana, é verdadeiramente miraculosa, e, no meu sentir, perfeitamente mentirosa. Mas não vem ao caso dizê-la. O que importa saber é que ela foi roubada e que a polícia tem denúncia contra o senhor.
Neste ponto do discurso, chegara-se o homem à janela; Duarte suspeitou que fosse um doido ou um ladrão. Não teve tempo de examinar a suspeita, porque dentro de alguns segundos, viu entrar cinco homens armados, que lhe lançaram as mãos e o levaram, escada abaixo, sem embargo dos gritos que soltava e dos movimentos desesperados que fazia. Na rua havia um carro, onde o meteram à força. Já lá estava o homem baixo e gordo, e mais um sujeito alto e magro, que o receberam e fizeram sentar no fundo do carro. Ouviu-se estalar o chicote do cocheiro e o carro partiu à desfilada.
— Ah! ah! disse o homem gordo. Com que então pensava que podia impunemente furtar chinelas turcas, namorar moças louras, casar talvez com elas... e rir ainda por cima do gênero humano.
Ouvindo aquela alusão à dama dos seus pensamentos, Duarte teve um calafrio. Tratava-se, ao que parecia, de algum desforço de rival suplantado. Ou a alusão seria casual e estranha à aventura? Duarte perdeu-se num cipoal de conjeturas, enquanto o carro ia sempre andando a todo galope. No fim de algum tempo, arriscou uma observação.
— Quaisquer que sejam os meus crimes, suponho que a polícia...
— Nós não somos da polícia, interrompeu friamente o homem magro.
— Ah!
— Este cavalheiro e eu fazemos um par. Ele, o senhor e eu fazemos um terno. Ora, terno não é melhor que par; não é, não pode ser. Um casal é o ideal. Provavelmente não me entendeu?
— Não, senhor.
— Há de entender logo mais.
Duarte resignou-se à espera, enfronhou-se no silêncio, derreou o corpo, e deixou correr o carro e a aventura. Obra de cinco minutos depois estacavam os cavalos.
— Chegamos, disse o homem gordo.
Dizendo isto, tirou um lenço da algibeira e ofereceu-o ao bacharel para que tapasse os olhos. Duarte recusou, mas o homem magro observou-lhe que era mais prudente obedecer que resistir. Não resistiu o bacharel; atou o lenço e apeou-se. Ouviu, daí a pouco, ranger uma porta; duas pessoas, — provavelmente as mesmas que o acompanharam no carro, — seguraram-lhe as mãos e o conduziram por uma infinidade de corredores e escadas. Andando, ouvia o bacharel algumas vozes desconhecidas, palavras soltas, frases truncadas. Afinal pararam; disseram-lhe que se sentasse e destapasse os olhos. Duarte obedeceu; mas ao desvendar-se, não viu ninguém mais.
Era uma sala vasta, assaz iluminada, trastejada com elegância e opulência. Era talvez sobreposse a variedade dos adornos; contudo, a pessoa que os escolhera devia ter gosto apurado.
Os bronzes, charões, tapetes, espelhos, — a cópia infinita de objetos que enchiam a sala, era tudo da melhor fábrica. A vista daquilo restituiu a serenidade de ânimo ao bacharel; não era provável que ali morassem ladrões.
Reclinou-se o moço indolentemente na otomana... Na otomana! Esta circunstância trouxe à memória do rapaz o principio da aventura e o roubo da chinela. Alguns minutos de reflexão bastaram para ver que a tal chinela era já agora mais que problemática. Cavando mais fundo no terreno das conjeturas, pareceu-lhe achar uma explicação nova e definitiva. A chinela vinha a ser pura metáfora; tratava-se do coração de Cecília, que ele roubara, delito de que o queria punir o já imaginado rival. A isto deviam ligar-se naturalmente as palavras misteriosas do homem magro: o par é melhor que o terno; um casal é o ideal.
— Há de ser isto, concluiu Duarte; mas quem será esse pretendente derrotado? Neste momento abriu-se uma porta do fundo da sala e negrejou a batina de um padre alvo e calvo. Duarte levantou-se, como por efeito de uma mola. O padre atravessou lentamente a sala, ao passar por ele deitou-lhe a bênção, e foi sair por outra porta rasgada na parede fronteira. O bacharel ficou sem movimento, a olhar para a porta, a olhar sem ver, estúpido de todos os sentidos. O inesperado daquela aparição baralhou totalmente as idéias anteriores a respeito da aventura. Não teve tempo, entretanto, de cogitar alguma nova explicação, porque a primeira porta foi de novo aberta e entrou por ela outra figura, desta vez o homem magro, que foi direito a ele e o convidou a segui-lo. Duarte não opôs resistência. Saíram por uma terceira porta, e, atravessados alguns corredores mais ou menos alumiados, foram dar a outra sala, que só o era por duas velas postas em castiçais de prata. Os castiçais estavam sobre uma mesa larga. Na cabeceira desta havia um homem velho que representava ter cinqüenta e cinco anos; era uma figura atlética, farta de cabelos na cabeça e na cara.
— Conhece-me? perguntou o velho, logo que Duarte entrou na sala.
— Não, senhor.
— Nem é preciso. O que vamos fazer exclui absolutamente a necessidade de qualquer apresentação. Saberá em primeiro lugar que o roubo da chinela foi um simples pretexto...
— Oh! Decerto! Interrompeu Duarte.
— Um simples pretexto, continuou o velho, para trazê-lo a esta nossa casa. A chinela não foi roubada; nunca saiu das mãos da dona. João Rufino, vá buscar a chinela.
O homem magro saiu, e o velho declarou ao bacharel que a famosa chinela não tinha nenhum diamante, nem fora comprada a nenhum judeu do Egito; era, porém, turca, segundo se lhe disse, e um milagre de pequenez. Duarte ouviu as explicações, e, reunindo todas as forças, perguntou resolutamente:
— Mas, senhor, não me dirá de uma vez o que querem de mim e o que estou fazendo nesta casa?
— Vai sabê-lo, respondeu tranqüilamente o velho.
A porta abriu-se e apareceu o homem magro com a chinela na mão. Duarte, convidado a aproximar-se da luz, teve ocasião de verificar que a pequenez era realmente miraculosa. A chinela era de marroquim finíssimo; no assento do pé, estufado e forrado de seda cor azul, rutilavam duas letras bordadas a ouro.
— Chinela de criança, não lhe parece? disse o velho.
— Suponho que sim.
— Pois supõe mal; é chinela de moça.
— Será; nada tenho com isso.
— Perdão! Tem muito, porque vai casar com a dona.
— Casar! exclamou Duarte.
— Nada menos. João Rufino, vá buscar a dona da chinela.
Saiu o homem magro, e voltou logo depois. Assomando à porta, levantou o reposteiro e deu entrada a uma mulher, que caminhou para o centro da sala. Não era mulher, era uma sílfide, uma visão de poeta, uma criatura divina.
Era loura; tinha os olhos azuis, como os de Cecília, extáticos, uns olhos que buscavam o céu ou pareciam viver dele. Os cabelos, deleixadamente penteados, faziam-lhe em volta da cabeça um como resplendor de santa; santa somente, não mártir, porque o sorriso que lhe desabrochava os lábios, era um sorriso de bem-aventurança, como raras vezes há de ter tido a terra.
Um vestido branco, de finíssima cambraia, envolvia-lhe castamente o corpo, cujas formas aliás desenhava, pouco para os olhos, mas muito para a imaginação.
Um rapaz, como o bacharel, não perde o sentimento da elegância, ainda em lances daqueles. Duarte, ao ver a moça, compôs o chambre, apalpou a gravata e fez uma cerimoniosa cortesia, a que ela correspondeu com tamanha gentileza e graça, que a aventura começou a parecer muito menos aterradora.
— Meu caro doutor, esta é a noiva.
A moça abaixou os olhos; Duarte respondeu que não tinha vontade de casar.
— Três coisas vai o senhor fazer agora mesmo, continuou impassivelmente o velho: a primeira, é casar; a segunda, escrever o seu testamento; a terceira engolir droga do Levante...
— Veneno! interrompeu Duarte.
— Vulgarmente é esse o nome; eu dou-lhe outro: passaporte do céu.
Duarte estava pálido e frio. Quis falar, não pôde; um gemido, sequer, não lhe saiu do peito. Rolaria ao chão, se não houvesse ali perto uma cadeira em que se deixou cair.
— O senhor, continuou o velho, tem uma fortunazinha de cento e cinqüenta contos. Esta pérola será a sua herdeira universal. João Rufino, vá buscar o padre.
O padre entrou, o mesmo padre calvo que abençoara o bacharel pouco antes; entrou e foi direto ao moço, engrolando sonolentamente um trecho de Neemias ou qualquer outro profeta menor; travou-lhe da mão e disse:
— Levante-se!
— Não! Não quero! Não me casarei!
— E isto? disse da mesa o velho, apontando-lhe uma pistola.
— Mas então é um assassinato?
— É; a diferença está no gênero de morte: ou violenta com isto, ou suave com a droga. Escolha!
Duarte suava e tremia. Quis levantar-se e não pôde. Os joelhos batiam um contra o outro. O padre chegou-se-lhe ao ouvido, e disse baixinho:
— Quer fugir?
— Oh! Sim! exclamou, não com os lábios, que podia ser ouvido, mas com os olhos em que pôs toda a vida que lhe restava.
— Vê aquela janela? Está aberta; embaixo fica um jardim. Atire-se dali sem medo.
— Oh! Padre! disse baixinho o bacharel.
— Não sou padre, sou tenente do exército. Não diga nada.
A janela estava apenas cerrada; via-se pela fresta uma nesga do céu, já meio claro. Duarte não hesitou, coligiu todas as forças, deu um pulo do lugar onde estava e atirou-se a Deus misericórdia por ali abaixo. Não era grande altura, a queda foi pequena; ergueu-se o moço rapidamente, mas o homem gordo, que estava no jardim, tomou-lhe o passo.
— Que é isso? perguntou ele rindo.
Duarte não respondeu, fechou os punhos, bateu com eles violentamente nos peitos do homem e deitou a correr pelo jardim fora. O homem não caiu; sentiu apenas um grande abalo; e, uma vez passada a impressão, seguiu no encalço do fugitivo. Começou então uma carreira vertiginosa. Duarte ia saltando cercas e muros, calcando canteiros, esbarrando árvores, que uma ou outra vez se lhe erguiam na frente. Escorria-lhe o suor em bica, alteava-se-lhe o peito, as forças iam a perder-se pouco a pouco; tinha uma das mãos feridas, a camisa salpicada do orvalho das folhas, duas vezes esteve a ponto de ser apanhado, o chambre pegara-se-lhe em uma cerca de espinhos. Enfim, cansado, ferido, ofegante, caiu nos degraus de pedra de uma casa, que havia no meio do último jardim que atravessara.
Olhou para trás; não viu ninguém, o perseguidor não o acompanhara até ali. Podia vir, entretanto; Duarte ergueu-se a custo, subiu os quatro degraus que lhe faltavam, e entrou na casa, cuja porta, aberta, dava para uma sala pequena e baixa.
Um homem que ali estava, lendo um número do Jornal do Comércio, pareceu não o ter visto entrar. Duarte caiu numa cadeira. Fitou os olhos no homem. Era o major Lopo Alves.
O major, empunhando a folha, cujas dimensões iam-se tornando extremamente exíguas, exclamou repentinamente:
— Anjo do céu, estás vingado! Fim do último quadro.
Duarte olhou para ele, para a mesa, para as paredes, esfregou os olhos, respirou à larga.
— Então! Que tal lhe pareceu?
— Ah! excelente! Respondeu o bacharel, levantando-se.
— Paixões fortes, não?
— Fortíssimas. Que horas são?
— Deram duas agora mesmo.
Duarte acompanhou o major até à porta, respirou ainda uma vez, apalpou-se, foi até à janela. Ignora-se o que pensou durante os primeiros minutos; mas, a cabo de um quarto de hora, eis o que ele dizia consigo: — Ninfa, doce amiga, fantasia inquieta e fértil, tu me salvaste de uma ruim peça com um sonho original, substituíste-me o tédio por um pesadelo: foi um bom negócio. Um bom negócio e uma grave lição: provaste-me ainda uma vez que o melhor drama está no espectador e não no palco.
segunda-feira, 27 de dezembro de 2010
Letras & Linhas: Machado de Assis
Letras & Linhas: Machado de Assis: "Missa do Galo Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora, há muitos anos, contava eu dezessete, ela trinta. Era noite de ..."
Machado de Assis
Missa do Galo
Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora, há muitos anos, contava eu dezessete, ela trinta. Era noite de Natal. Havendo ajustado com um vizinho irmos à missa do galo, preferi não dormir; combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite.
A casa em que eu estava hospedado era a do escrivão Meneses, que fora casado, em primeiras núpcias, com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-me bem quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro, meses antes, a estudar preparatórios. Vivia tranqüilo, naquela casa assobradada da Rua do Senado, com os meus livros, poucas relações, alguns passeios. A família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e duas escravas. Costumes velhos. Às dez horas da noite toda a gente estava nos quartos; às dez e meia a casa dormia. Nunca tinha ido ao teatro, e mais de uma vez, ouvindo dizer ao Meneses que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta, e as escravas riam à socapa; ele não respondia, vestia-se, saía e só tornava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Meneses trazia amores com uma senhora, separada do marido, e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera, a princípio, com a existência da comborça; mas afinal, resignara-se, acostumara-se, e acabou achando que era muito direito.
Boa Conceição! Chamavam-lhe "a santa", e fazia jus ao título, tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes risos. No capítulo de que trato, dava para maometana; aceitaria um harém, com as aparências salvas. Deus me perdoe, se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito nem feio. Era o que chamamos uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo. Não sabia odiar; pode ser até que não soubesse amar.
Naquela noite de Natal foi o escrivão ao teatro. Era pelos anos de 1861 ou 1862. Eu já devia estar em Mangaratiba, em férias; mas fiquei até o Natal para ver "a missa do galo na Corte". A família recolheu-se à hora do costume; eu meti-me na sala da frente, vestido e pronto. Dali passaria ao corredor da entrada e sairia sem acordar ninguém. Tinha três chaves a porta; uma estava com o escrivão, eu levaria outra, a terceira ficava em casa.
— Mas, Sr. Nogueira, que fará você todo esse tempo? perguntou-me a mãe de Conceição.
— Leio, D. Inácia.
Tinha comigo um romance, Os Três Mosqueteiros, velha tradução creio do Jornal do Comércio. Sentei-me à mesa que havia no centro da sala, e à luz de um candeeiro de querosene, enquanto a casa dormia, trepei ainda uma vez ao cavalo magro de D'Artagnan e fui-me às aventuras. Dentro em pouco estava completamente ébrio de Dumas. Os minutos voavam, ao contrário do que costumam fazer, quando são de espera; ouvi bater onze horas, mas quase sem dar por elas, um acaso. Entretanto, um pequeno rumor que ouvi dentro veio acordar-me da leitura. Eram uns passos no corredor que ia da sala de visitas à de jantar; levantei a cabeça; logo depois vi assomar à porta da sala o vulto de Conceição.
— Ainda não foi? perguntou ela.
— Não fui, parece que ainda não é meia-noite.
— Que paciência!
Conceição entrou na sala, arrastando as chinelinhas da alcova. Vestia um roupão branco, mal apanhado na cintura. Sendo magra, tinha um ar de visão romântica, não disparatada com o meu livro de aventuras. Fechei o livro, ela foi sentar-se na cadeira que ficava defronte de mim, perto do canapé. Como eu lhe perguntasse se a havia acordado, sem querer, fazendo barulho, respondeu com presteza:
— Não! qual! Acordei por acordar.
Fitei-a um pouco e duvidei da afirmativa. Os olhos não eram de pessoa que acabasse de dormir; pareciam não ter ainda pegado no sono. Essa observação, porém, que valeria alguma cousa em outro espírito, depressa a botei fora, sem advertir que talvez não dormisse justamente por minha causa, e mentisse para me não afligir ou aborrecer. Já disse que ela era boa, muito boa.
— Mas a hora já há de estar próxima, disse eu.
— Que paciência a sua de esperar acordado, enquanto o vizinho dorme! E esperar sozinho! Não tem medo de almas do outro mundo? Eu cuidei que se assustasse quando me viu.
— Quando ouvi os passos estranhei: mas a senhora apareceu logo.
— Que é que estava lendo? Não diga, já sei, é o romance dos Mosqueteiros.
— Justamente: é muito bonito.
— Gosta de romances?
— Gosto.
— Já leu a Moreninha?
— Do Dr. Macedo? Tenho lá em Mangaratiba.
— Eu gosto muito de romances, mas leio pouco, por falta de tempo. Que romances é que você tem lido?
Comecei a dizer-lhe os nomes de alguns. Conceição ouvia-me com a cabeça reclinada no espaldar, enfiando os olhos por entre as pálpebras meio-cerradas, sem os tirar de mim. De vez em quando passava a língua pelos beiços, para umedecê-los. Quando acabei de falar, não me disse nada; ficamos assim alguns segundos. Em seguida, vi-a endireitar a cabeça, cruzar os dedos e sobre eles pousar o queixo, tendo os cotovelos nos braços da cadeira, tudo sem desviar de mim os grandes olhos espertos.
"Talvez esteja aborrecida", pensei eu.
E logo alto:
— D. Conceição, creio que vão sendo horas, e eu...
— Não, não, ainda é cedo. Vi agora mesmo o relógio, são onze e meia. Tem tempo. Você, perdendo a noite, é capaz de não dormir de dia?
— Já tenho feito isso.
— Eu, não, perdendo uma noite, no outro dia estou que não posso, e, meia hora que seja, hei de passar pelo sono. Mas também estou ficando velha.
— Que velha o que, D. Conceição?
Tal foi o calor da minha palavra que a fez sorrir. De costume tinha os gestos demorados e as atitudes tranqüilas; agora, porém, ergueu-se rapidamente, passou para o outro lado da sala e deu alguns passos, entre a janela da rua e a porta do gabinete do marido. Assim, com o desalinho honesto que trazia, dava-me uma impressão singular. Magra embora, tinha não sei que balanço no andar, como quem lhe custa levar o corpo; essa feição nunca me pareceu tão distinta como naquela noite. Parava algumas vezes, examinando um trecho de cortina ou concertando a posição de algum objeto no aparador; afinal deteve-se, ante mim, com a mesa de permeio. Estreito era o círculo das suas idéias; tornou ao espanto de me ver esperar acordado; eu repeti-lhe o que ela sabia, isto é, que nunca ouvira missa do galo na Corte, e não queria perdê-la.
— É a mesma missa da roça; todas as missas se parecem.
— Acredito; mas aqui há de haver mais luxo e mais gente também. Olhe, a semana santa na Corte é mais bonita que na roça. São João não digo, nem Santo Antônio...
Pouco a pouco, tinha-se reclinado; fincara os cotovelos no mármore da mesa e metera o rosto entre as mãos espalmadas. Não estando abotoadas as mangas, caíram naturalmente, e eu vi-lhe metade dos braços, muito claros, e menos magros do que se poderiam supor.
A vista não era nova para mim, posto também não fosse comum; naquele momento, porém, a impressão que tive foi grande. As veias eram tão azuis, que apesar da pouca claridade, podia, contá-las do meu lugar. A presença de Conceição despertara-me ainda mais que o livro. Continuei a dizer o que pensava das festas da roça e da cidade, e de outras cousas que me iam vindo à boca. Falava emendando os assuntos, sem saber por que, variando deles ou tornando aos primeiros, e rindo para fazê-la sorrir e ver-lhe os dentes que luziam de brancos, todos iguaizinhos. Os olhos dela não eram bem negros, mas escuros; o nariz, seco e longo, um tantinho curvo, dava-lhe ao rosto um ar interrogativo. Quando eu alteava um pouco a voz, ela reprimia-me:
— Mais baixo! mamãe pode acordar.
E não saía daquela posição, que me enchia de gosto, tão perto ficavam as nossas caras. Realmente, não era preciso falar alto para ser ouvido: cochichávamos os dois, eu mais que ela, porque falava mais; ela, às vezes, ficava séria, muito séria, com a testa um pouco franzida. Afinal, cansou, trocou de atitude e de lugar. Deu volta à mesa e veio sentar-se do meu lado, no canapé. Voltei-me e pude ver, a furto, o bico das chinelas; mas foi só o tempo que ela gastou em sentar-se, o roupão era comprido e cobriu-as logo. Recordo-me que eram pretas. Conceição disse baixinho:
— Mamãe está longe, mas tem o sono muito leve, se acordasse agora, coitada, tão cedo não pegava no sono.
— Eu também sou assim.
— O quê? perguntou ela inclinando o corpo, para ouvir melhor.
Fui sentar-me na cadeira que ficava ao lado do canapé e repeti-lhe a palavra. Riu-se da coincidência; também ela tinha o sono leve; éramos três sonos leves.
— Há ocasiões em que sou como mamãe, acordando, custa-me dormir outra vez, rolo na cama, à toa, levanto-me, acendo vela, passeio, torno a deitar-me e nada.
— Foi o que lhe aconteceu hoje.
— Não, não, atalhou ela.
Não entendi a negativa; ela pode ser que também não a entendesse. Pegou das pontas do cinto e bateu com elas sobre os joelhos, isto é, o joelho direito, porque acabava de cruzar as pernas. Depois referiu uma história de sonhos, e afirmou-me que só tivera um pesadelo, em criança. Quis saber se eu os tinha. A conversa reatou-se assim lentamente, longamente, sem que eu desse pela hora nem pela missa. Quando eu acabava uma narração ou uma explicação, ela inventava outra pergunta ou outra matéria e eu pegava novamente na palavra. De quando em quando, reprimia-me:
— Mais baixo, mais baixo...
Havia também umas pausas. Duas outras vezes, pareceu-me que a via dormir; mas os olhos, cerrados por um instante, abriam-se logo sem sono nem fadiga, como se ela os houvesse fechado para ver melhor. Uma dessas vezes creio que deu por mim embebido na sua pessoa, e lembro-me que os tornou a fechar, não sei se apressada ou vagarosamente. Há impressões dessa noite, que me parecem truncadas ou confusas. Contradigo-me, atrapalho-me. Uma das que ainda tenho frescas é que em certa ocasião, ela, que era apenas simpática, ficou linda, ficou lindíssima. Estava de pé, os braços cruzados; eu, em respeito a ela, quis levantar-me; não consentiu, pôs uma das mãos no meu ombro, e obrigou-me a estar sentado. Cuidei que ia dizer alguma cousa; mas estremeceu, como se tivesse um arrepio de frio voltou as costas e foi sentar-se na cadeira, onde me achara lendo. Dali relanceou a vista pelo espelho, que ficava por cima do canapé, falou de duas gravuras que pendiam da parede.
— Estes quadros estão ficando velhos. Já pedi a Chiquinho para comprar outros.
Chiquinho era o marido. Os quadros falavam do principal negócio deste homem. Um representava "Cleópatra"; não me recordo o assunto do outro, mas eram mulheres. Vulgares ambos; naquele tempo não me pareciam feios.
— São bonitos, disse eu.
— Bonitos são; mas estão manchados. E depois francamente, eu preferia duas imagens, duas santas. Estas são mais próprias para sala de rapaz ou de barbeiro.
— De barbeiro? A senhora nunca foi a casa de barbeiro.
— Mas imagino que os fregueses, enquanto esperam, falam de moças e namoros, e naturalmente o dono da casa alegra a vista deles com figuras bonitas. Em casa de família é que não acho próprio. É o que eu penso, mas eu penso muita cousa assim esquisita. Seja o que for, não gosto dos quadros. Eu tenho uma Nossa Senhora da Conceição, minha madrinha, muito bonita; mas é de escultura, não se pode pôr na parede, nem eu quero. Está no meu oratório.
A idéia do oratório trouxe-me a da missa, lembrou-me que podia ser tarde e quis dizê-lo. Penso que cheguei a abrir a boca, mas logo a fechei para ouvir o que ela contava, com doçura, com graça, com tal moleza que trazia preguiça à minha alma e fazia esquecer a missa e a igreja. Falava das suas devoções de menina e moça. Em seguida referia umas anedotas de baile, uns casos de passeio, reminiscências de Paquetá, tudo de mistura, quase sem interrupção. Quando cansou do passado, falou do presente, dos negócios da casa, das canseiras de família, que lhe diziam ser muitas, antes de casar, mas não eram nada. Não me contou, mas eu sabia que casara aos vinte e sete anos.
Já agora não trocava de lugar, como a princípio, e quase não saíra da mesma atitude. Não tinha os grandes olhos compridos, e entrou a olhar à toa para as paredes.
— Precisamos mudar o papel da sala, disse daí a pouco, como se falasse consigo.
Concordei, para dizer alguma cousa, para sair da espécie de sono magnético, ou o que quer que era que me tolhia a língua e os sentidos. Queria e não queria acabar a conversação; fazia esforço para arredar os olhos dela, e arredava-os por um sentimento de respeito; mas a idéia de parecer que era aborrecimento, quando não era, levava-me os olhos outra vez para Conceição. A conversa ia morrendo. Na rua, o silêncio era completo.
Chegamos a ficar por algum tempo, — não posso dizer quanto, — inteiramente calados. O rumor único e escasso, era um roer de camundongo no gabinete, que me acordou daquela espécie de sonolência; quis falar dele, mas não achei modo. Conceição parecia estar devaneando. Subitamente, ouvi uma pancada na janela, do lado de fora, e uma voz que bradava: "Missa do galo! missa do galo!"
— Aí está o companheiro, disse ela levantando-se. Tem graça; você é que ficou de ir acordá-lo, ele é que vem acordar você. Vá, que hão de ser horas; adeus.
— Já serão horas? perguntei.
— Naturalmente.
— Missa do galo! — repetiram de fora, batendo.
— Vá, vá, não se faça esperar. A culpa foi minha. Adeus até amanhã.
E com o mesmo balanço do corpo, Conceição enfiou pelo corredor dentro, pisando mansinho. Saí à rua e achei o vizinho que esperava. Guiamos dali para a igreja. Durante a missa, a figura de Conceição interpôs-se mais de uma vez, entre mim e o padre; fique isto à conta dos meus dezessete anos. Na manhã seguinte, ao almoço falei da missa do galo e da gente que estava na igreja sem excitar a curiosidade de Conceição. Durante o dia, achei-a como sempre, natural, benigna, sem nada que fizesse lembrar a conversação da véspera. Pelo Ano-Bom fui para Mangaratiba. Quando tornei ao Rio de Janeiro em março, o escrivão tinha morrido de apoplexia. Conceição morava no Engenho Novo, mas nem a visitei nem a encontrei. Ouvi mais tarde que casara com o escrevente juramentado do marido.
segunda-feira, 20 de dezembro de 2010
Letras & Linhas: Fernando Sabino
Letras & Linhas: Fernando Sabino: "MAIS UM NATALFernando SabinoAviso num restaurante de Brighton, que o dono fez imprimir no cardápio, à revelia dos garçons: “Somos seus am..."
Fernando Sabino
MAIS UM NATAL
Fernando Sabino
Aviso num restaurante de Brighton, que o dono fez imprimir no cardápio, à revelia dos garçons:
“Somos seus amigos e lhe desejamos um Feliz Natal. Por favor, não nos ofenda, dando-nos gorjetas.”
Junto à porta de saída, entretanto, os garçons fizeram dependurar uma caixinha sob o letreiro: “Ofensas”.
E no dia de Natal, como sempre, todos os bares de Londres permanecem fechados. Mas consegui realizar o milagre de encontrar em Chelsea um bar aberto, lá para as dez horas da noite. Meio desconfiado, fui entrando – logo um dos fregueses se adiantou, copo de cerveja na mão:
– Perdão, cavalheiro, mas o senhor já foi à igreja hoje?
E se justificou estendendo o braço ao redor, para apontar os demais fregueses, que bebiam cerveja em silêncio.
– Porque aqui dentro, nós todos já fomos.
E sem esperar resposta, passou-me o seu copo de cerveja, pedindo ao barman outro para si.
Festejou-se o Natal, já se festeja o Ano Novo. Há, porém, muita gente na triste perspectiva de passar ambas as festas em completa solidão. Como é o caso de Ethel Denham, uma velhinha com mais de oitenta anos de idade.
Dona Ethel não tem filhos nem marido: nunca chegou a se casar.
Mora sozinha numa pequena casa de Exeter, fruto de sua aposentadoria.
Para que não lhe aconteça alguma coisa sem ter a quem apelar, foi instalada à porta de sua casinha uma luz vermelha, que ela pode acender para pedir socorro, em caso de necessidade.
Na noite de Natal esta necessidade veio, mais imperiosa do que nunca. A boa velhinha não agüentava a idéia de estar sozinha e passar o Natal sem ninguém. Então acendeu luz de socorro e aguardou os acontecimentos.
Em pouco chegava um guarda de serviço, para ver o que tinha acontecido. E viu que não tinha acontecido nada.
– Fique um pouquinho – pediu ela. – Vamos conversar um pouco.
O guarda teve pena e resolveu ficar. Para não estar sem fazer nada, enquanto conversava fiado com a velhinha, fez um chá, aproveitou e lavou a louça, limpou a cozinha, deu ma arrumação na casa.
Para quê! Há gestos de solidariedade e compreensão que exigem outros, pois acostumam mal. Ou acostumam bem, ainda que na simples necessidade de participar da humana convivência. A dona da casa, encantada, na noite seguinte, depois de fazer o jantar, ficou esperando o seu Papai Noel tornar a aparecer. Como ele nunca mais viesse, não teve dúvida: acendeu a luz do pedido de socorro. Em pouco surgia outro guarda, para saber o que havia.
– Fique um pouquinho – pediu ela: – O senhor não aceita uma xícara de chá?
Mas este estava de serviço mesmo, não era mais noite de Natal nem nada. Então confortou a velhinha como pôde e caiu fora.
Ela, desde então, está esperando o primeiro guarda voltar – aquele sim, tão bonzinho que ele é. Não se conformando mais, depois de três noites de espera, vestiu um capote, enrolou-se num chale e saiu para o frio da rua até a guarnição local, a fim de saber onde andava o seu amigo. Mas não lhe guardara o nome, de modo que o comandante da guarnição, apesar de sua boa vontade, não conseguiu localizá-lo. Agora, a velhinha apela através do jornal, pedindo ao próprio que apareça uma noite dessas, para um dedinho de prosa, para uma xícara de chá.
Outros, cuja necessidade material é mais imperiosa ainda que o convívio, tiveram quem apelasse em nome deles durante o Natal. O vigário da minha paróquia, em West Hampstead, resolveu perder a cerimônia, durante a prédica:
– Vou ser claro e quem tiver ouvidos para ouvir, ouça: estamos nas vésperas do Natal, é preciso ser generoso, proporcionarmos aos pobres um fim de ano decente. Eles também têm direito. Quero hoje uma coleta mais abundante que nos outros domingos. Falei claro? Pois vou lançar mão de uma parábola, para não perder o hábito, e porque fica mais bonito. Já usei essa parábola em outros Natais, e com grande sucesso. Lá vai ela, prestem atenção.
E pôs-se a contar a história daquele inglês que estava passeando pelo campo, como só os ingleses costumam fazer, quando de repente caiu uma chuvarada. Ele, naquele descampado, não tinha onde se esconder.
Avistou ao longe uma árvore solitária, correu para lá – mas era uma árvore desgalhada e desfolhada, quase que só tinha tronco. No tronco havia um oco – o homem não teve dúvida: meteu-se no oco da árvore, para se esconder da chuva.
Vai daí, no que a chuva amainou, o homem quis sair do oco da árvore, não houve jeito: a água tinha feito inchar a madeira e a passagem, já estreita, estreitara-se ainda mais. Ali estava ele, prisioneiro da árvore, sozinho no meio do campo, jamais sairia dali, certamente morreria entalado. Então começou a meditar na estupidez que fora sua vida, sempre preocupado com o próprio bem-estar, sem jamais pensar em seus semelhantes. Nunca lhe ocorrera dar uma esmola para os pobres no Natal, por exemplo. Se freqüentasse a igreja da sua paróquia (e aqui o vigário fazia um parêntese: “que certamente podia ser esta aqui mesmo, ele podia ser um dos senhores que estão me ouvindo”), ele seria sensível a este apelo à sua generosidade. Mas não: gastava dinheiro à toa, com bobagem, nunca abrira mão de um mínimo que fosse para atender à necessidade de alguém. E foi-se sentindo cada vez mais ínfimo, diminuindo diante de si mesmo, com a consciência da sua própria iniqüidade. Deu-se então o milagre: tanto diminuiu, ficou tão pequenino, que conseguiu sair do oco da árvore.
E o vigário arremata:
– Vamos ter uma estação bem chuvosa este fim de ano! Cuidado com o oco da árvore em que se meterem! Lembrem-se da própria pequenez! Dêem esmolas aos meus pobres!
Já o dono de uma área de estacionamento de automóveis onde costumo parar o meu carro, em pleno centro de Londres, deixa-se impregnar à sua maneira do espírito de generosidade reinante no Natal. Tanto assim, que dei com o seguinte aviso ali afixado:
“Feliz Natal! Hoje o estacionamento aqui é gratuito.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade.
Em tempo: a paz na terra aos homens de boa vontade termina impreterivelmente à meia-noite.”
Em: "Livro Aberto", 2001.
“Somos seus amigos e lhe desejamos um Feliz Natal. Por favor, não nos ofenda, dando-nos gorjetas.”
Junto à porta de saída, entretanto, os garçons fizeram dependurar uma caixinha sob o letreiro: “Ofensas”.
E no dia de Natal, como sempre, todos os bares de Londres permanecem fechados. Mas consegui realizar o milagre de encontrar em Chelsea um bar aberto, lá para as dez horas da noite. Meio desconfiado, fui entrando – logo um dos fregueses se adiantou, copo de cerveja na mão:
– Perdão, cavalheiro, mas o senhor já foi à igreja hoje?
E se justificou estendendo o braço ao redor, para apontar os demais fregueses, que bebiam cerveja em silêncio.
– Porque aqui dentro, nós todos já fomos.
E sem esperar resposta, passou-me o seu copo de cerveja, pedindo ao barman outro para si.
Festejou-se o Natal, já se festeja o Ano Novo. Há, porém, muita gente na triste perspectiva de passar ambas as festas em completa solidão. Como é o caso de Ethel Denham, uma velhinha com mais de oitenta anos de idade.
Dona Ethel não tem filhos nem marido: nunca chegou a se casar.
Mora sozinha numa pequena casa de Exeter, fruto de sua aposentadoria.
Para que não lhe aconteça alguma coisa sem ter a quem apelar, foi instalada à porta de sua casinha uma luz vermelha, que ela pode acender para pedir socorro, em caso de necessidade.
Na noite de Natal esta necessidade veio, mais imperiosa do que nunca. A boa velhinha não agüentava a idéia de estar sozinha e passar o Natal sem ninguém. Então acendeu luz de socorro e aguardou os acontecimentos.
Em pouco chegava um guarda de serviço, para ver o que tinha acontecido. E viu que não tinha acontecido nada.
– Fique um pouquinho – pediu ela. – Vamos conversar um pouco.
O guarda teve pena e resolveu ficar. Para não estar sem fazer nada, enquanto conversava fiado com a velhinha, fez um chá, aproveitou e lavou a louça, limpou a cozinha, deu ma arrumação na casa.
Para quê! Há gestos de solidariedade e compreensão que exigem outros, pois acostumam mal. Ou acostumam bem, ainda que na simples necessidade de participar da humana convivência. A dona da casa, encantada, na noite seguinte, depois de fazer o jantar, ficou esperando o seu Papai Noel tornar a aparecer. Como ele nunca mais viesse, não teve dúvida: acendeu a luz do pedido de socorro. Em pouco surgia outro guarda, para saber o que havia.
– Fique um pouquinho – pediu ela: – O senhor não aceita uma xícara de chá?
Mas este estava de serviço mesmo, não era mais noite de Natal nem nada. Então confortou a velhinha como pôde e caiu fora.
Ela, desde então, está esperando o primeiro guarda voltar – aquele sim, tão bonzinho que ele é. Não se conformando mais, depois de três noites de espera, vestiu um capote, enrolou-se num chale e saiu para o frio da rua até a guarnição local, a fim de saber onde andava o seu amigo. Mas não lhe guardara o nome, de modo que o comandante da guarnição, apesar de sua boa vontade, não conseguiu localizá-lo. Agora, a velhinha apela através do jornal, pedindo ao próprio que apareça uma noite dessas, para um dedinho de prosa, para uma xícara de chá.
Outros, cuja necessidade material é mais imperiosa ainda que o convívio, tiveram quem apelasse em nome deles durante o Natal. O vigário da minha paróquia, em West Hampstead, resolveu perder a cerimônia, durante a prédica:
– Vou ser claro e quem tiver ouvidos para ouvir, ouça: estamos nas vésperas do Natal, é preciso ser generoso, proporcionarmos aos pobres um fim de ano decente. Eles também têm direito. Quero hoje uma coleta mais abundante que nos outros domingos. Falei claro? Pois vou lançar mão de uma parábola, para não perder o hábito, e porque fica mais bonito. Já usei essa parábola em outros Natais, e com grande sucesso. Lá vai ela, prestem atenção.
E pôs-se a contar a história daquele inglês que estava passeando pelo campo, como só os ingleses costumam fazer, quando de repente caiu uma chuvarada. Ele, naquele descampado, não tinha onde se esconder.
Avistou ao longe uma árvore solitária, correu para lá – mas era uma árvore desgalhada e desfolhada, quase que só tinha tronco. No tronco havia um oco – o homem não teve dúvida: meteu-se no oco da árvore, para se esconder da chuva.
Vai daí, no que a chuva amainou, o homem quis sair do oco da árvore, não houve jeito: a água tinha feito inchar a madeira e a passagem, já estreita, estreitara-se ainda mais. Ali estava ele, prisioneiro da árvore, sozinho no meio do campo, jamais sairia dali, certamente morreria entalado. Então começou a meditar na estupidez que fora sua vida, sempre preocupado com o próprio bem-estar, sem jamais pensar em seus semelhantes. Nunca lhe ocorrera dar uma esmola para os pobres no Natal, por exemplo. Se freqüentasse a igreja da sua paróquia (e aqui o vigário fazia um parêntese: “que certamente podia ser esta aqui mesmo, ele podia ser um dos senhores que estão me ouvindo”), ele seria sensível a este apelo à sua generosidade. Mas não: gastava dinheiro à toa, com bobagem, nunca abrira mão de um mínimo que fosse para atender à necessidade de alguém. E foi-se sentindo cada vez mais ínfimo, diminuindo diante de si mesmo, com a consciência da sua própria iniqüidade. Deu-se então o milagre: tanto diminuiu, ficou tão pequenino, que conseguiu sair do oco da árvore.
E o vigário arremata:
– Vamos ter uma estação bem chuvosa este fim de ano! Cuidado com o oco da árvore em que se meterem! Lembrem-se da própria pequenez! Dêem esmolas aos meus pobres!
Já o dono de uma área de estacionamento de automóveis onde costumo parar o meu carro, em pleno centro de Londres, deixa-se impregnar à sua maneira do espírito de generosidade reinante no Natal. Tanto assim, que dei com o seguinte aviso ali afixado:
“Feliz Natal! Hoje o estacionamento aqui é gratuito.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade.
Em tempo: a paz na terra aos homens de boa vontade termina impreterivelmente à meia-noite.”
Em: "Livro Aberto", 2001.
quinta-feira, 16 de dezembro de 2010
Letras & Linhas: Luís Fernando Veríssimo
Letras & Linhas: Luís Fernando Veríssimo: "NATAL Luís Fernando Veríssimo Natal é uma época difícil para cronistas. Eles não podem ignorar a data e ao mesmo tempo não há mais maneiras..."
Luís Fernando Veríssimo
NATAL
Luís Fernando Veríssimo
Natal é uma época difícil para cronistas. Eles não podem ignorar a data e ao mesmo tempo não há mais maneiras originais de tratar do assunto. Os cronistas, principalmente os que estão no métier há tanto tempo, que ainda usam a palavra métier – já fizeram tudo que havia para fazer com o Natal. Já recontaram a história do nascimento de Jesus de todas as formas: versão moderna (Maria tem o bebê numa fila do SUS), versão coloquial ("Pô, cara, aí Herodes radicalizou e mandou apagá as pinta recém-nascida, baita mauca"), versão socialmente relevante (os três reis magos são detidos pela polícia a caminho da manjedoura, mas só o negro precisa explicar o que tem no saco) versão on-line (jotace@salvad.com.bel conta sua vida num chat sitc), etc.
Papai Noel, então, nem se fala. Eu mesmo já escrevi a história do casal moderno que flagra o Papai Noel deixando presentes sob a árvore de Natal, corre com o Papai Noel e não conta nada da sua visita para o filho porque querem criá-lo sem qualquer tipo de superstição várias vezes.
Poucos cronistas estão inocentes de inventar cartas fictícias com pedidos para o Papai Noel: patéticas (paz para o mundo, bom senso para os governantes), políticas ("Só mais um mandato e eu juro que acerto, ass. Fernando") ou práticas ("Algo novo para escrever sobre o Natal, por amor de Deus!").
Já fomos sentimentais, já fomos amargos, já fomos sarcásticos e blasfemos, já fomos simples, já fomos pretensiosos – não há mais nada a escrever sobre o Natal! Espera um pouquinho. Tive uma idéia. Uma reunião de noéis! Noel Rosa, Noel Coward e Papai Noel. Acho que sai alguma coisa.
Noel Rosa, Noel Coward e Papai Noel estão reunidos... onde? Na mesa de um bar? Papai Noel não freqüenta bares para não dar mau exemplo. Pelo menos não com a roupa de trabalho. No Pólo Norte? Noel Coward, acostumado com o inverno de Londres, talvez agüentasse, mas Noel Rosa congelaria. Não interessa onde é o encontro. Uma das primeiras lições da crônica é: não especifica. Noel Rosa, Noel Coward e Papai Noel estão reunidos em algum lugar. Os três conversam.
Noel Rosa – Ahm... Sim... Hmm...
Noel Rosa diz - O quê?
Noel Rosa – E então?
Noel Coward e Papai Noel se entreolham. Papai Noel cofia a barba. Ninguém sabe, exatamente, o que é "cofiar", mas é o que Papai Noel faz, enquanto Noel Coward olha em volta com evidente desgosto por estar em algum lugar. Preferia estar em outro. A todas essas eu penso em alguma coisa para eles dizerem.
Noel Roas (tentando de novo) – E aí?
Papai Noel – Aqui, na luta.
Noel Coward – What?
Esquece. Não há mais nada a escrever sobre o Natal.
Salvo isto, se dão vênia: que seu Natal em nada lembre o da Chechênia.
Que suas meias se encham de metais vis desde que não sejam guaranis.
Que sob a árvore enfeitada o grande embrulho com seu nome seja...
Meu Deus, a Paola pelada!
Que em nenhum momento do rebu alguém faça piada com o tamanho do peru.
Que em alegre bimbalhada os sinos anunciem ao mundo que está saindo a rabanada.
E cantem os anjos, a capela que o Cristo vai nascer assim que acabar a novela.
quarta-feira, 15 de dezembro de 2010
Letras & Linhas: Carlos Drummond de Andrade
Letras & Linhas: Carlos Drummond de Andrade: "ESTE NATAL – Este Natal anda muito perigoso – concluiu João Brandão, ao ver dois PM travarem pelos braços o robusto Papai Noel, que tentava..."
Carlos Drummond de Andrade
ESTE NATAL
– Este Natal anda muito perigoso – concluiu João Brandão, ao ver dois PM travarem pelos braços o robusto Papai Noel, que tentava fugir, e o conduzirem a trancos e barrancos para o Distrito. Se até Papai Noel é considerado fora-da-lei, que não acontecerá com a gente?
Logo lhe explicaram que aquele era um falso velhinho, conspurcador das vestes amáveis. Em vez de dar presentes, tomava-os das lojas onde a multidão se comprime, e os vendedores, afobados com a clientela, não podem prestar atenção a tais manobras. Fora apanhado em flagrante, ao furtar um rádio transistor, e teria de despir a fantasia.
– De qualquer maneira, este Natal é fogo – voltou a ponderar Brandão, pois se os ladrões se disfarçam em Papai Noel, que garantia tem a gente diante de um bispo, de um almirante, de um astronauta? Pode ser de verdade, pode ser de mentira; acabou-se a confiança no próximo.
De resto, é isso mesmo que o jornal recomenda: "Nesta época do Natal, o melhor é desconfiar sempre”.Talvez do próprio Menino Jesus, que, na sua inocência cerâmica, se for de tamanho natural, poderá esconder não sei que mecanismo pérfido, pronto a subtrair tua carteira ou teu anel, na hora em que te curvares sobre o presépio para beijar o divino infante.
O gerente de uma loja de brinquedos queixou-se a João que o movimento está fraco, menos por falta de dinheiro que por medo de punguistas e vigaristas. Alertados pela imprensa, os cautelosos preferem não se arriscar a duas eventualidades: serem furtados ou serem suspeitados como afanadores, pois o vendedor precisa desconfiar do comprador: se ele, por exemplo, já traz um pacote, toda cautela é pouca. Vai ver, o pacote tem fundo falso, e destina-se a recolher objetos ao alcance da mão rápida.
O punguista é a delicadeza em pessoa, adverte-nos a polícia. Assim, temos de desconfiar de todo desconhecido que se mostre cortês; se ele levar a requintes sua gentileza, o melhor é chamar o Cosme e depois verificar, na delegacia, se se trata de embaixador aposentado, da era de Ataulfo de Paiva e D. Laurinda Santos Lobo, ou de reles lalau.
Triste é desconfiar da saborosa moça que deseja experimentar um vestido, experimenta, e sai com ele sem pagar, deixando o antigo, ou nem esse. Acontece – informa um detetive, que nos inocula a suspeita prévia em desfavor de todas as moças agradáveis do Rio de Janeiro. O Natal de pé atrás, que nos ensina o desamor.
E mais. Não aceite o oferecimento do sujeito sentado no ônibus, que pretende guardar sobre os joelhos o seu embrulho.
Quem use botas, seja ou não Papai Noel, olho nele: é esconderijo de objetos surrupiados. Sua carteira, meu caro senhor, deve ser presa a um alfinete de fralda, no bolso mais íntimo do paletó; e se, ainda assim, sentir-se ameaçado pelo vizinho de olhar suspeito, cerre o bolso com fita durex e passe uma tela de arame fino e eletrificado em redor do peito. Enterrar o dinheiro no fundo do quintal não adianta, primeiro porque não há quintal, e, se houvesse, dos terraços dos edifícios em redor, munidos de binóculos, ladrões implacáveis sorririam da pobre astúcia.
Eis os conselhos que nos dão pelo Natal, para que o atravessemos a salvo. Francamente, o melhor seria suprimir o Natal e, com ele, os especialistas em furto natalino. Ou – idéia de João Brandão, o sempre inventivo – comemorá-lo em épocas incertas, sem aviso prévio, no maior silêncio, em grupos pequenos de parentes, amigos e amores, unidos na paz e na confiança de Deus.
Em: "Caminhos de João Brandão", 1970.
Logo lhe explicaram que aquele era um falso velhinho, conspurcador das vestes amáveis. Em vez de dar presentes, tomava-os das lojas onde a multidão se comprime, e os vendedores, afobados com a clientela, não podem prestar atenção a tais manobras. Fora apanhado em flagrante, ao furtar um rádio transistor, e teria de despir a fantasia.
– De qualquer maneira, este Natal é fogo – voltou a ponderar Brandão, pois se os ladrões se disfarçam em Papai Noel, que garantia tem a gente diante de um bispo, de um almirante, de um astronauta? Pode ser de verdade, pode ser de mentira; acabou-se a confiança no próximo.
De resto, é isso mesmo que o jornal recomenda: "Nesta época do Natal, o melhor é desconfiar sempre”.Talvez do próprio Menino Jesus, que, na sua inocência cerâmica, se for de tamanho natural, poderá esconder não sei que mecanismo pérfido, pronto a subtrair tua carteira ou teu anel, na hora em que te curvares sobre o presépio para beijar o divino infante.
O gerente de uma loja de brinquedos queixou-se a João que o movimento está fraco, menos por falta de dinheiro que por medo de punguistas e vigaristas. Alertados pela imprensa, os cautelosos preferem não se arriscar a duas eventualidades: serem furtados ou serem suspeitados como afanadores, pois o vendedor precisa desconfiar do comprador: se ele, por exemplo, já traz um pacote, toda cautela é pouca. Vai ver, o pacote tem fundo falso, e destina-se a recolher objetos ao alcance da mão rápida.
O punguista é a delicadeza em pessoa, adverte-nos a polícia. Assim, temos de desconfiar de todo desconhecido que se mostre cortês; se ele levar a requintes sua gentileza, o melhor é chamar o Cosme e depois verificar, na delegacia, se se trata de embaixador aposentado, da era de Ataulfo de Paiva e D. Laurinda Santos Lobo, ou de reles lalau.
Triste é desconfiar da saborosa moça que deseja experimentar um vestido, experimenta, e sai com ele sem pagar, deixando o antigo, ou nem esse. Acontece – informa um detetive, que nos inocula a suspeita prévia em desfavor de todas as moças agradáveis do Rio de Janeiro. O Natal de pé atrás, que nos ensina o desamor.
E mais. Não aceite o oferecimento do sujeito sentado no ônibus, que pretende guardar sobre os joelhos o seu embrulho.
Quem use botas, seja ou não Papai Noel, olho nele: é esconderijo de objetos surrupiados. Sua carteira, meu caro senhor, deve ser presa a um alfinete de fralda, no bolso mais íntimo do paletó; e se, ainda assim, sentir-se ameaçado pelo vizinho de olhar suspeito, cerre o bolso com fita durex e passe uma tela de arame fino e eletrificado em redor do peito. Enterrar o dinheiro no fundo do quintal não adianta, primeiro porque não há quintal, e, se houvesse, dos terraços dos edifícios em redor, munidos de binóculos, ladrões implacáveis sorririam da pobre astúcia.
Eis os conselhos que nos dão pelo Natal, para que o atravessemos a salvo. Francamente, o melhor seria suprimir o Natal e, com ele, os especialistas em furto natalino. Ou – idéia de João Brandão, o sempre inventivo – comemorá-lo em épocas incertas, sem aviso prévio, no maior silêncio, em grupos pequenos de parentes, amigos e amores, unidos na paz e na confiança de Deus.
Em: "Caminhos de João Brandão", 1970.
Assinar:
Postagens (Atom)