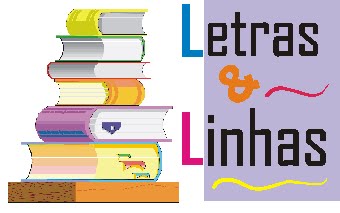segunda-feira, 28 de fevereiro de 2011
Clarice Lispector
domingo, 27 de fevereiro de 2011
Vinícius de Moraes
Um dia prá vadiar
O mar que não tem tamanho
E um arco-íris no ar...
Sentir preguiça no corpo
E numa esteira de vime
Beber uma água de côco
É bom!...
Ao sol que arde em Itapuã
Ouvindo o mar de Itapuã
Falar de amor em Itapuã...(2x)
Um verde novinho em folha
Argumentar com doçura
Com uma cachaça de rolha...
No encontro de céu e mar
Bem devagar ir sentindo
A terra toda rodar
É bom!...
Ao sol que arde em Itapuã
Ouvindo o mar de Itapuã
Falar de amor em Itapuã...(2x)
Do vento que a noite traz
E o diz-que-diz-que macio
Que brota dos coqueirais...
Sem ontem nem amanhã
Dormir nos braços morenos
Da lua de Itapuã
É bom!...
Ao sol que arde em Itapuã
Ouvindo o mar de Itapuã
Falar de amor em Itapuã...(2x)
sexta-feira, 25 de fevereiro de 2011
Luís Fernando Veríssimo
Uma boa maneira de começar um conto é imaginar uma situação rigidamente formal — digamos, um recital de quarteto de cordas — e depois começar a desfiá-la, como um pulôver velho. Então vejamos. Um recital de quarteto de cordas.
O quarteto entra no palco sob educados aplausos da seleta platéia. São três homens e uma mulher. A mulher, que é jovem e bonita, toca viola. Veste um longo vestido preto. Os três homens estão de fraque. Tomam os seus lugares atrás das partituras. Da esquerda para a direita: um violino, outro violino, a viola e o violoncelo. Deixa ver se não esqueci nenhum detalhe. O violoncelista tem um grande bigode ruivo. Isto pode se revelar importante mais tarde, no conto. Ou não.
Os quatro afinam seus instrumentos. Depois, silêncio. Aquela expectativa nervosa que precede o início de qualquer concerto. As últimas tossidas da platéia. O primeiro violinista consulta seus pares com um olhar discreto. Estão todos prontos, o violinista coloca o instrumento sob o queixo e posiciona seu arco. Vai começar o recital. Nisso...
Nisso, o quê? Qual a coisa mais insólita que pode acontecer num recital de um quarteto de cordas? Passar uma manada de zebus pelo palco, por trás deles? Não. Uma manada de zebus passa, parte da platéia pula das suas poltronas e procura as saídas em pânico, outra parte fica paralisada e perplexa, mas depois tudo volta ao normal. O quarteto, que manteve-se firme em seu lugar até o último zebu — são profissionais e, mesmo, aquilo não pode estar acontecendo — começa a tocar. Nenhuma explicação é pedida ou oferecida. Segue o Mozart.
Não. É preciso instalar-se no acontecimento, como a semente da confusão, uma pequena incongruência. Algo que crie apenas um mal-estar, de início e chegue lentamente, em etapas sucessivas, ao caos. Um morcego que posa na cabeça do segundo violinista durante um pizzicato. Não. Melhor ainda. Entra no palco um homem carregando uma tuba.
Há um murmúrio na platéia. O que é aquilo? O homem entra, com sua tuba, dos bastidores. Posta-se ao lado do violoncelista. O primeiro violinista, retesado como um mergulhador que subitamente descobriu que não tem água na piscina, olha para a tuba entre fascinado e horrorizado. O que é aquilo? Depois de alguns instantes em que a tensão no ar é como a corda de um violino esticada ao máximo, o primeiro violinista fala:
— Por favor...
— O quê? — diz o homem da tuba, já na defensiva. — Vai dizer que eu não posso ficar aqui?
— O que o senhor quer?
— Quero tocar, ora. Podem começar que eu acompanho.
Alguns risos na platéia. Ruídos de impaciência. Ninguém nota que o violoncelista olhou para trás e quando deu com o tocador de tuba virou o rosto em seguida, como se quisesse se esconder. O primeiro violinista continua:
— Retire-se, por favor.
— Por quê? Quero tocar também.
O primeiro violinista olha nervosamente para a platéia. Nunca em toda a sua carreira como líder do quarteto teve que enfrentar algo parecido. Uma vez um mosquito entrou na sua narina durante uma passagem de Vivaldi. Mas nunca uma tuba.
— Por favor. Isto é um recital para quarteto de cordas. Vamos tocar Mozart. Não tem nenhuma parte para a tuba.
— Eu improviso alguma coisa. Vocês começam e eu faço o um-pá-pá.
Mais risos na platéia. Expressões de escândalo. De onde surgiu aquele homem com uma tuba? Ele nem está de fraque. Segundo algumas versões veste uma camisa do Vasco. Usa chinelos de dedo. A violista sente-se mal. O violinista ameaça chamar alguém dos bastidores para retirar o tocador de tuba a força. Mas ele aproxima o bocal do seu instrumento dos lábios e ameaça:
— Se alguém se aproximar de mim eu toco pof!
A perspectiva de se ouvir um pof naquele recinto paralisa a todos.
— Está bem — diz o primeiro violinista. — Vamos conversar. Você, obviamente, entrou no lugar errado. Isto é um recital de cordas. Estamos nos preparando para tocar Mozart. Mozart não tem um-pá-pá.
— Mozart não sabe o que está perdendo — diz o tocador de tuba, rindo para a platéia e tentando conquistar a sua simpatia.
Não consegue. O ambiente é hostil. O tocador de tuba muda de tom. Torna-se ameaçador:
— Está bem, seus elitistas. Acabou. Onde é que vocês pensam que estão, no século XVIII? Já houve 17 revoluções populares depois de Mozart. Vou confiscar estas partituras em nome do povo. Vocês todos serão interrogados. Um a um, pá-pá.
Torna-se suplicante:
— Por favor, só o que eu quero é tocar um pouco também. Eu sou humilde. Não pude estudar instrumento de cordas. Eu mesmo fiz esta tuba, de um Volkswagen velho. Deixa...
Num tom sedutor, para a violista:
— Eu represento os seus sonhos secretos. Sou um produto da sua imaginação lúbrica, confessa. Durante o Mozart, neste quarteto anti-séptico, é em mim que você pensa. Na minha barriga e na minha tuba fálica. Você quer ser violada por mim num alegro assai, confessa...
Finalmente, desafiador, para o violoncelista:
— Esse bigode ruivo. Estou reconhecendo. É o mesmo bigode que eu usava em 1968. Devolve!
O tocador de tuba e o violoncelista atracam-se. Os outros membros do quarteto entram na briga. A platéia agora grita e pula. É o caos! Simbolizando, talvez, a falência final de todo o sistema de valores que teve início com o iluminismo europeu ou o triunfo do instinto sobre a razão ou ainda, uma pane mental do autor. Sobre o palco, um dos resultados da briga é que agora quem está com o bigode ruivo é a violista. Vendo-a assim, o tocador de tuba pára de morder a perna do segundo violinista, abre os braços e grita: "Mamãe!"
Nisso, entra no palco uma manada de zebus.
quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011
Cecília Meireles
terça-feira, 22 de fevereiro de 2011
Letras & Linhas: História da Arte
segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011
Carlos Drummond de Andrade

domingo, 20 de fevereiro de 2011
Vinícius de Moraes
Essa intimidade perfeita com o silêncio
Resta essa voz íntima pedindo perdão por tudo
- Perdoai-os! porque eles não têm culpa de ter nascido...
Resta esse antigo respeito pela noite, esse falar baixo
Essa mão que tateia antes de ter, esse medo
De ferir tocando, essa forte mão de homem
Cheia de mansidão para com tudo quanto existe.
Resta essa imobilidade, essa economia de gestos
Essa inércia cada vez maior diante do Infinito
Essa gagueira infantil de quem quer exprimir o inexprimível
Essa irredutível recusa à poesia não vivida.
Resta essa comunhão com os sons, esse sentimento
Da matéria em repouso, essa angústia da simultaneidade
Do tempo, essa lenta decomposição poética
Em busca de uma só vida, uma só morte, um só Vinicius.
Resta esse coração queimando como um círio
Numa catedral em ruínas, essa tristeza
Diante do cotidiano; ou essa súbita alegria
Ao ouvir passos na noite que se perdem sem história.
Resta essa vontade de chorar diante da beleza
Essa cólera em face da injustiça e o mal-entendido
Essa imensa piedade de si mesmo, essa imensa
Piedade de si mesmo e de sua força inútil.
Resta esse sentimento de infância subitamente desentranhado
De pequenos absurdos, essa capacidade
De rir à toa, esse ridículo desejo de ser útil
E essa coragem para comprometer-se sem necessidade.
Resta essa distração, essa disponibilidade, essa vagueza
De quem sabe que tudo já foi como será no vir-a-ser
E ao mesmo tempo essa vontade de servir, essa
Contemporaneidade com o amanhã dos que não tiveram ontem nem hoje.
Resta essa faculdade incoercível de sonhar
De transfigurar a realidade, dentro dessa incapacidade
De aceitá-la tal como é, e essa visão
Ampla dos acontecimentos, e essa impressionante
E desnecessária presciência, e essa memória anterior
De mundos inexistentes, e esse heroísmo
Estático, e essa pequenina luz indecifrável
A que às vezes os poetas dão o nome de esperança.
Resta esse desejo de sentir-se igual a todos
De refletir-se em olhares sem curiosidade e sem memória
Resta essa pobreza intrínseca, essa vaidade
De não querer ser príncipe senão do seu reino.
Resta esse diálogo cotidiano com a morte, essa curiosidade
Pelo momento a vir, quando, apressada
Ela virá me entreabrir a porta como uma velha amante
Mas recuará em véus ao ver-me junto à bem-amada...
Resta esse constante esforço para caminhar dentro do labirinto
Esse eterno levantar-se depois de cada queda
Essa busca de equilíbrio no fio da navalha
Essa terrível coragem diante do grande medo, e esse medo
Infantil de ter pequenas coragens.
sábado, 19 de fevereiro de 2011
Eugênio de Castro

sexta-feira, 18 de fevereiro de 2011
Eugênio de Castro

Letras & Linhas: Biografias
quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011
Antero de Quental

terça-feira, 15 de fevereiro de 2011
Antero de Quental

Tese e Antítese
I
Já não sei o que vale a nova idéia,
Quando a vejo nas ruas desgrenhada,
Torva no aspecto, à luz da barricada,
Como bacante após lúbrica ceia!
Sanguinolento o olhar se lhe incendeia…
Aspira fumo e fogo embriagada…
A deusa de alma vasta e sossegada
Ei-la presa das fúrias de Medéia!
Um século irritado e truculento
Chama à epilepsia pensamento,
Verbo ao estampido de pelouro e obus…
Mas a idéia é num mundo inalterável,
Num cristalino céu, que vive estável…
Tu, pensamento, não és fogo, és luz!
II
Num céu intemerato e cristalino
Pode habitar talvez um Deus distante,
Vendo passar em sonho cambiante
O Ser, como espetáculo divino:
Mas o homem, na terra onde o destino
O lançou, vive e agita-se incessante…
Enche o ar da terra o seu pulmão possante…
Cá da terra blasfema ou ergue um hino…
A idéia encarna em peitos que palpitam:
O seu pulsar são chamas que crepitam,
Paixões ardentes como vivos sóis!
Combatei pois na terra árida e bruta,
Té que a revolva o remoinhar da luta,
Té que a fecunde o sangue dos heróis!
Letras & Linhas: Biografias
domingo, 13 de fevereiro de 2011
Vinícius de Moraes
Ausência
Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos que são doces
Porque nada te poderei dar senão a mágoa de me veres eternamente exausto.
No entanto a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida
E eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto e em minha voz a tua voz.
Não te quero ter porque em meu ser tudo estaria terminado.
Quero só que surjas em mim como a fé nos desesperados
Para que eu possa levar uma gota de orvalho nesta terra amaldiçoada
Que ficou sobre a minha carne como nódoa do passado.
Eu deixarei... tu irás e encostarás a tua face em outra face.
Teus dedos enlaçarão outros dedos e tu desabrocharás para a madrugada.
Mas tu não saberás que quem te colheu fui eu, porque eu fui o grande íntimo da noite.
Porque eu encostei minha face na face da noite e ouvi a tua fala amorosa.
Porque meus dedos enlaçaram os dedos da névoa suspensos no espaço.
E eu trouxe até mim a misteriosa essência do teu abandono desordenado.
Eu ficarei só como os veleiros nos pontos silenciosos.
Mas eu te possuirei como ninguém porque poderei partir.
E todas as lamentações do mar, do vento, do céu, das aves, das estrelas.
Serão a tua voz presente, a tua voz ausente, a tua voz serenizada.
sábado, 12 de fevereiro de 2011
Graça Aranha

Um dos jovens magiares, levando uma corda, caminhou para o cavalo. O animal entregou-lhe a cabeça numa mistura de abandono e tédio. O rapaz passou-lhe o cabresto e o levou ao poste fronteiro à casa, onde o amarrou. Os colonos tinham resolvido principiar naquele dia a plantação do seu prazo, e o velho deu ordem de partir para a queimada. Os filhos armaram-se das ferramentas de lavoura, o cigano, saindo de sua modorra e apenas armado de um chicote, acompanhou os outros, que, desamarrando o cavalo, seguiram com ele para o roçado. As raparigas que ficavam em casa cheias de instintivo pavor, viam o grupo afastar-se vagarosamente.
Chegaram ao aceiro que, aberto como uma larga ferida sobre o dorso da terra, era um sulco de alguns metros de largura, circundando a queimada. Da mata carbonizada ainda resistiam de pé alguns troncos despojados, enegrecidos. Milkau e Lentz, passeando àquela hora, passaram perto do roçado e viram chegar aí o grupo dos vizinhos.
- Ainda bem, disse Milkau, eles vão trabalhar; fazia-me dó ver esta gente apática, irresoluta, entorpecida na preguiça.
- Mas para que trazem eles quase arrastado aquele cavalo? Perguntou Lentz.
E os dois se afastaram um pouco e ficaram a distância, acompanhando os movimentos do grupo.
O velho colono segurou o animal pelo cabresto e o colocou no meio da vala. Os filhos puseram-se de lado, num recolhimento religioso. O pai puxou o cavalo para a frente. De chicote em punho, o cigano seguia atrás, e a primeira vergastada, cortando o ar num sibilo, caiu em cheio sobre o animal. Este, como arrancando-se de si mesmo, pinoteou assustado. Novas lambadas foram arremessadas por mão vigorosa. Estirou o cavalo o pescoço para a frente, abaixou-se, alongou-se, encostando quase o ventre à terra, como para se libertar do flagelo que lhe vinha do alto. Os seus membros se estorciam, confrangidos sob a dor imensa. E desapiedadamente, puxavam-no para diante, levando-o ao furor do açoite. Naquele sacrifício cumpria-se uma missão sagrada: ligava-se à nova terra o nervo da tradição da terra antiga. Quando os antepassados tártaros desceram do planalto asiático, e no solo europeu renunciaram à vida errante dos pastores, para lavrar o campo e buscar na cultura a satisfação da vida, sacrificaram aos deuses o velho companheiro de peregrinação nos brancos estepes. E, assim, a imolação ficou sempre no espírito dos descendentes como um dever, cujas raízes se estendem até ao fundo da alma das raças.
Continuava o grupo a caminhar. O velho, como um sacerdote, conduzia a vítima, seguida do cigano, em cujo rosto se recompunha a antiga expressão infernal e terrível dos antepassados, num retrocesso harmônico e rápido, produzido pelo singular efeito da paixão sanguinária. Os outros assistiam mudos à cerimônia. O chicote vibrava incessante; as suas pontas de ferro cortavam o lombo do animal. O ar leve e frio, penetrando nos fios de carne viva, causava uma dor fina, aguda, acerba, e a vista e o cheiro do sangue excitavam ainda mais a energia do flagelador. Veio-lhe uma histérica insensibilidade, uma rudimentar anestesia, uma assassina obsessão. Estonteou-o uma vertigem, mas o açoite não parou. Os sulcos na carne se abriam mais fundos; o sangue escorria frouxo. Mofino de dor, o cavalo prosseguia arrastado, regando a terra. Gotas vermelhas respingavam sobre a descoberta cabeça do velho magiar, de uma brancura de açucena. As suas narinas se dilatavam em lânguido gozo. Cavos gemidos ressoavam no peito da besta. E no seu olhar infinito de moribundo se traduziam os humildes protestos e os tímidos apelos de misericórdia.
E o relho soava, enquanto o mártir ia lento, de pescoço estirado, pernas trôpegas, esvaindo-se pelas veias abertas, como torneiras de sangue. O cigano mais terrível, mais feroz, transfigurava-se, e da sua garganta afinada irrompeu brusco, sonoro, o canto de guerra dos velhos tártaros. O chicote cruel e rápido marcava o compasso desse ritmo estranho. O contágio do furor se apoderou dos outros, que, imobilizados, assistiam ao sacrifício. E embriagados pouco a pouco pelas frases da música, pela sugestão do rito, pelo odor de carne sangrenta, acompanhavam o canto, num coro infernal. O animal, exausto, caíra de lado, como um peso inerte. O açoite inexorável ainda o levantou uma vez, e no solo, como numa verônica, ficou estampada a imagem do seu corpo, impressa em sangue. Prosseguia sem interrupção, fogoso, lúgubre, o canto que feria asperamente o ar, e era o eco da melodia satânica da morte. O cavalo deu mais alguns passos, cambaleando como um alucinado, e afinal se prostrou sobre a terra. Arquejante resfolegando num espaçado estertor, morria vagarosamente. Nas suas pupilas de moribundo se fotografaram num derradeiro clarão as fisionomias dos algozes. E esta imagem medonha, que se lhe guardara no interior dos olhos, era a infinita tortura que o acompanharia além da própria morte, presidindo à dolorosa decomposição da sua carne de mártir.
Cessaram as vozes. Os homens se agruparam em torno do cadáver, rezando como fantasmas loucos. Poças e fios vermelhos manchavam o sulco. A camada de argila, lisa, escorregadia como uma couraça, tornava o seio da terra impenetrável ao sangue, que sorvido pelo sol se evaporava e dissolvia no ar. Era a rejeição do sacrifício, o repúdio da imolação, rompendo a cruenta tradição do passado. A nova Terra juntava a sua contribuição aos límpidos ideais dos novos homens...
(Canaã,1902)
quinta-feira, 10 de fevereiro de 2011
Mário Quintana

OS POEMAS
Os poemas são pássaros que chegam
não se sabe de onde e pousam
no livro que lês.
Quando fechas o livro, eles alçam vôo
como de um alçapão.
Eles não têm pouso
nem porto;
alimentam-se um instante em cada
par de mãos e partem.
E olhas, então, essas tuas mãos vazias,
no maravilhado espanto de saberes
que o alimento deles já estava em ti...
POEMA DA GARE DE ASTAPOVO
O velho Leon Tolstoi fugiu de casa aos oitenta anos
E foi morrer na gare de Astapovo!
Com certeza sentou-se a um velho banco,
Um desses velhos bancos lustrosos pelo uso
Que existem em todas as estaçõezinhas pobres do mundo
Contra uma parede nua...
Sentou-se ...e sorriu amargamente
Pensando que
Em toda a sua vida
Apenas restava de seu a Glória,
Esse irrisório chocalho cheio de guizos e fitinhas
Coloridas
Nas mãos esclerosadas de um caduco!
E então a Morte,
Ao vê-lo tão sozinho aquela hora
Na estação deserta,
Julgou que ele estivesse ali a sua espera,
Quando apenas sentara para descansar um pouco!
A morte chegou na sua antiga locomotiva
(Ela sempre chega pontualmente na hora incerta...)
Mas talvez não pensou em nada disso, o grande Velho,
E quem sabe se até não morreu feliz: ele fugiu...
Ele fugiu de casa...
Ele fugiu de casa aos oitenta anos de idade...
Não são todos que realizam os velhos sonhos da infância!
terça-feira, 8 de fevereiro de 2011
Érico Veríssimo
Os Devaneios do General
Abre-se uma clareira azul no escuro céu de inverno.
O sol inunda os telhados de Jacarecanga. Um galo salta para cima da cerca do quintal, sacode a crista vermelha que fulgura, estica o pescoço e solta um cocoricó alegre. Nos quintais vizinhos outros galos respondem.
O sol! As poças d’água que as últimas chuvas deixaram no chão se enchem de jóias coruscantes. Crianças saem de suas casas e vão brincar nos rios barrentos das sarjetas. Um vento frio afugenta as nuvens para as bandas do norte e dentro de alguns instantes o céu é todo um clarão de puro azul.
O General Chicuta resolve então sair da toca. A toca é o quarto. O quarto fica na casa da neta e é o seu último reduto. Aqui na sombra ele passa as horas sozinho, esperando a morte. Poucos móveis: a cama antiga, a cômoda com papeis velhos, medalhas, relíquias, uniformes, lembranças; a cadeira de balanço, o retrato do Senador; o busto do Patriarca; duas ou três cadeiras… E recordações… Recordações dum tempo bom que passou, — patifes! — dum mundo de homens diferentes dos de hoje. — Canalhas! — duma Jacarecanga passiva e ordeira, dócil e disciplinada, que não fazia nada sem primeiro ouvir o General Chicuta Campolargo.
O general aceita o convite do sol e vai sentar-se à janela que dá para a rua. Ali está ele com a cabeça atirada para trás, apoiada no respaldo da poltrona. Seus olhinhos sujos e diluídos se fecham ofuscados pela violência da luz. E ele arqueja, porque a caminhada do quarto até a janela foi penosa, cansativa. De seu peito sai um ronco que lembra o do estertor da morte.
O general passa a mão pelo rosto murcho: mão de cadáver passeando num rosto de cadáver. Sua barbicha branca e rala esvoaça ao vento. O velho deixa cair os braços e fica imóvel como um defunto.
Os galos tornam a cantar. As crianças gritam. Um preto de cara reluzente passa alegre na rua com um cesto de laranjas à cabeça.
Animado aos poucos pela ilusão de vida que a luz quente lhe dá, o general entreabre os olhos e devaneia…
Jacarecanga! Sim senhor! Quem diria? A gente não conhece mais a terra onde nasceu… Ares de cidade. Automóveis. Rádios. Modernismos. Negro quase igual a branco. Criado tão bom como patrão. Noutro tempo todos vinham pedir a benção ao General Chicuta, intendente municipal e chefe político… A oposição comia fogo com ele.
O general sorria a um pensamento travesso. Naquele dia toda a cidade ficou alvoroçada. Tinha aparecido na “Voz de Jacarecanga” um artigo desaforado… Não trazia assinatura. Dizia assim: “A hiena sanguinária que bebeu o sangue dos revolucionários de 93 agora tripudia sobre a nossa mísera cidade desgraçada”. Era com ele, sim, não havia dúvida. (Corria por todo o Estado a sua fama de degolador.) Era com ele! Por isso Jacarecanga tinha prendido fogo ao ler o artigo. Ele quase estourou de raiva. Tremeu, bufou, enxergou vermelho. Pegou o revólver. Largou. Resmungou “Patife! Canalha!” Depois ficou mais calmo. Botou a farda de general e dirigiu-se para a Intendência. Mandou chamar o Mendanha, diretor do jornal. O Mendanha veio. Estava pálido. Era atrevido mas covarde. Entrou de chapéu na mão, tremendo. Ficaram os dois sozinhos, frente a frente.
— Sente-se, canalha!
O Mendanha obedeceu. O general levantou-se. (Brilhavam os alamares dourados contra o pano negro do dólmã.) Tirou da gaveta da mesa a página do jornal que trazia o famoso artigo. Aproximou-se do adversário.
— Abra a boca! — ordenou.
Mendanha abriu, sem dizer palavra. O general picou a página em pedacinhos, amassou-os todos numa bola e atochou-a na boca do outro.
— Come! — gritou.
Os olhos de Mendanha estavam arregalados. O sangue lhe fugira do rosto.
— Coma! — sibilou o general.
Mendanha suplicava com o olhar. O general encostou-lhe no peito o cano do revolver e rosnou com raiva mal contida.
— Coma, pústula!
E o homem comeu.
Um avião passa roncando por cima da casa, cujas vidraças trepidam. O general tem um sobressalto desagradável. A sombra do grande pássaro se desenha lá em baixo, no chão do jardim. O general ergue o punho para o ar, numa ameaça.
— Patifes! Vagabundos, ordinários! Não têm mais o que fazer? Vão pegar no cabo duma enxada, seus canalhas. Isso não é serviço de homem macho.
Fica olhando, com olho hostil, o avião amarelo que passa voando rente aos telhados da cidade.
No seu tempo não havia daquelas engenhocas, daquelas malditas máquinas. Para que servem? Para matar gente. Para acordar quem dorme. Para gastar dinheiro. Para a guerra. Guerras covardes, as de hoje! Antigamente brigava-se em campo aberto, peito contra peito, homem contra homem. Hoje se metem os poltrões nesses “banheiros” que voam, e lá de cima se põem a atirar bombas em cima da infantaria. A guerra perdeu toda a sua dignidade.
O general remergulha no devaneio.
93… Foi lindo. O Rio Grande inteiro cheirava a sangue. Quando se aproximava a hora do combate, ele ficava assanhado. Tinha perto de cinqüenta anos mas não se trocava por nenhum rapaz de vinte.
Por um instante, o general se revê montado no seu tordilho, teso e glorioso, a espada chispando ao sol, o pala voando ao vento… Vejam só! Agora está aqui, um caco velho, sem força nem serventia, esperando a todo instante a visita da morte. Pode entrar. Sente-se. Cale a boca!
Morte… O general vê mentalmente uma garganta aberta sangrando. Fecha os olhos e pensa naquela noite… Naquela noite que ele nunca mais esqueceu. Naquela noite que é uma recordação que o há de acompanhar decerto até o outro mundo… se houver outro mundo.
Os seus vanguardeiros voltaram contando que a força revolucionária estava dormindo desprevenida, sem sentinelas… Se fizessem um ataque rápido, ela seria apanhada de surpresa. O general deu um pulo. Chamou os oficiais. Traçou o plano. Cercariam o acampamento inimigo. Marchariam no maior silêncio e, a um sinal, cairiam sobre os “maragatos”. Ia ser uma festa! Acrescentou com energia: “Inimigo não se poupa. Ferro neles!”
Sorriu um sorriso torto de canto de boca. (Como a gente se lembra dos mínimos detalhes…) Passou o indicador da mão direita pelo próprio pescoço, no simulacro duma operação familiar… Os oficiais sorriam, compreendendo. O ataque se fez. Foi uma tempestade. Não ficou nenhum prisioneiro vivo para contar dos outros. Quando a madrugada raiou, a luz do dia novo caiu sobre duzentos homens degolados. Corvos voavam sobre o acampamento de cadáveres. O general passou por entre os destroços. Encontrou conhecidos entre os mortos, antigos camaradas. Deu com a cabeça dum prisioneiro fincada no espeto que na tarde anterior servira aos maragatos para assar churrasco. Teve um leve estremecimento. Mas uma frase soou-lhe na mente: “Inimigo não se poupa”.
O general agora recorda… Remorso? Qual! Um homem é um homem e um gato é um bicho.
Lambe os lábios gretados. Sede. Procura gritar:
— Petronilho!
A voz que sai da garganta é tão remota e apagada que parece a voz de um moribundo, vinda do fundo do tempo, dum acampamento de 93.
— Petronilho! Negro safado! Petronilho!
Começa a bater forte no chão com a ponta da bengala, frenético. A neta aparece à porta. Traz nas mãos duas agulhas vermelhas de tricô e um novelo de lã verde.
— Que é, vovô?
— Morreu a gente desta casa? Ninguém me atende. Canalhas! Onde está o Petronilho?
— Está lá fora, vovô.
— Ele não ganha pra cuidar de mim? Então? Chame ele.
— Não precisa ficar brabo, vovô. Que é que o senhor quer?
— Quero um copo d’água. Estou com sede.
— Por que não toma suco de laranja?
— Água, eu disse.
A neta suspira e sai. O general entrega-se a pensamentos amargos. Deus negou-lhe filhos homens. Deu-lhe uma única filha mulher que morreu no dia em que dava à luz uma neta. Uma neta! Por que não um neto, um macho? Agora aí está a Juventina, metida o dia inteiro com tricôs e figurinos, casada com um bacharel que fala em socialismo, na extinção dos latifúndios, em igualdade. Há seis anos nasceu-lhe um filho. Homem, até que enfim! Mas está sendo mal educado. Ensinam-lhe boas maneiras. Dão-lhe mimos. Estão a transformá-lo num maricas. Parece uma menina. Tem a pele tão delicada, tão macia, tão corada… Chiquinho… Não tem nada que lembre os Campolargos. Os Campolargos que brilharam na guerra do Paraguai, na Revolução de 1893 e que ainda defenderam o governo em 1923…
Um dia ele perguntou ao menino:
— Chiquinho, você quer ser general como o vovô?
— Não. Eu quero ser doutor como o papai.
— Canalhinha! Patifinho!
Petronilho entra, trazendo um copo de suco de laranja.
— Eu disse água! — sibila o general.
O mulato sacode os ombros.
— Mas eu digo suco de laranja.
— Eu quero água. Vá buscar água, seu cachorro!
Petronilho responde sereno:
— Não vou, general de bobagem…
O general escabuja de raiva, esgrime a bengala, procurando inutilmente atingir o criado. Agita-se todo, num tremor desesperado.
— Canalha! — cicia arquejante — Vou te mandar dar umas chicotadas!
— Suco de laranja — cantarola o mulato.
— Água! Juventina! Negro patife! Cachorro!
Petronilho sorri:
— Suco de laranja, seu sargento!
Com um grito de fera o general arremessa a bengala na direção do criado. Num movimento ágil de gato, Petronilho quebra o corpo e esquiva-se do golpe.
O general se entrega. Atira a cabeça para trás e, de braços caídos, fica todo trêmulo, com a respiração ofegante e os olhos revirados, uma baba a escorrer-lhe pelos cantos da boca mole, parda e gretada.
Petronilho sorri. Já faz três anos que assiste com gozo a esta agonia. Veio oferecer-se de propósito para cuidar do general. Pediu apenas casa, comida e roupa. Não quis mais nada. Só tinha um desejo: ver os últimos dias da fera. Porque ele sabe que foi o general Chicuta Campolargo que mandou matar o seu pai. Uma bala na cabeça, os miolos escorrendo para o chão… Só porque o mulato velho na última eleição fora o melhor cabo eleitoral da oposição. O general chamou-o a intendência. Quis esbofeteá-lo. O mulato reagiu, disse-lhe desaforos, saiu altivo. No outro dia…
Petronilho compreendeu tudo. Muito menino, pensou na vingança mas, com o correr do tempo, esqueceu. Depois a situação política da cidade melhorou. O general aos poucos foi perdendo a autoridade. Hoje os jornais já falam na “hiena que bebeu em 93 o sangue dos degolados”. Ninguém mais dá importância ao velho. chegou aos ouvidos de Petronilho a notícia de que a fera agonizava. Então ele se apresentou como enfermeiro. Agora goza, provoca, desrespeita. E fica rindo… Pede a Deus que lhe permita ver o fim, que não deve tardar. É questão de meses, de semanas, talvez até de dias… O animal passou o inverno metido na toca, conversando com os seus defuntos, gritando, dizendo desaforos para os fantasmas, dando vozes de comando: “Romper fogo! Cessar Fogo! Acampar”.
E recitando coisas esquisitas. “V. Exa. precisa de ser reeleito para glória do nosso invencível Partido”. Outras vezes olhava para o busto e berrava: “Inimigo não se poupa. Ferro neles”.
Mais sereno agora, o general estende a mão pedindo. Petronilho dá-lhe o copo de suco de laranja. O velho bebe, tremulamente. Lambendo os beiços, como se acabasse de saborear o seu prato predileto, o mulato volta para a cozinha, a pensar em novas perversidades.
O general contempla os telhados de Jacarecanga. Tudo isto já lhe pertenceu… Aqui ele mandava e desmandava. Elegia sempre os seus candidatos; derrubava urnas, anulava eleições. Conforme a sua conveniência, condenava ou absolvia réus. Certa vez mandou dar uma sova num promotor público que não lhe obedeceu à ordem de ser brando na acusação. Doutra feita correu a relho da cidade um juiz que teve o caradurismo de assumir ares de integridade de opor resistência a uma ordem sua.
Fecha os olhos e recorda a glória antiga.
Um grito de criança. O general baixa os olhos. No jardim, o bisneto brinca com os pedregulhos do chão. Seus cabelos louros estão incendiados de sol. O general contempla-o com tristeza e se perde em divagações…
Que será o mundo de amanhã, quando Chiquinho for homem feito? Mais aviões cruzarão nos céus. E terá desaparecido o último “homem” da face da terra. Só restarão idiotas efeminados, criaturas que acreditam na igualdade social, que não têm o sentido da autoridade, fracalhões que não se hão de lembrar dos feitos dos seus antepassados, nem… Oh! Não vale a pena pensar no que será amanhã o mundo dos maricas, o mundo de Chiquinho, talvez o último dos Campolargos!
E, dispnéico, se entrega de novo ao devaneio, adormentado pela carícia do sol.
De repente, a criança entra de novo na sala, correndo, muito vermelho:
— Vovô! Vovô!
Traz a mão erguida e seus olhos brilham. Faz alto ao pé da poltrona do general.
— A lagartixa, vovozinho…
O general inclina a cabeça. Uma lagartixa verde se retorce na mãozinha delicada, manchada de sangue. O velho olha para o bisneto com ar interrogador. Alvorotado, o menino explica:
— Degolei a lagartixa, vovô!
No primeiro instante o general perde a voz, no choque da surpresa. Depois murmura, comovido:
— Seu patife! Seu canalha! Degolou a lagartixa? Muito bem. Inimigo não se poupa. Seu patife!
E afaga a cabeça do bisneto, com uma luz de esperança nos olhos de sáurio.